Moramos numa casa de três andares e divisões a mais do que as necessárias. Temos a habitação mais afastada da aldeia, mas o Pai gosta do isolamento. Possuímos um terreno vastíssimo, portanto, na maior parte do tempo, eu acredito realmente que este espaço em que vivemos é o mundo inteiro. Pelo menos, essa é a minha realidade.
Não sei como cheguei a este sítio; se fui comprada, trocada, roubada ou parida aqui é para mim uma incógnita. Apenas sei que estou aqui há tanto tempo quanto me lembro. Somos demasiados aqui dentro, mesmo que haja espaço para ainda mais pessoas, e todos nos regemos pelas regras do Pai. É um facto que nem todos nós somos seus filhos, mas ele não aceita nenhum outro nome.
A última de nós a chegar foi uma pequena loura, trazida a meio da noite. Foi-nos apresentada pela manhã, sem qualquer justificação. Ela estava amedontrada, encolhida como um bicho, mas a sua idade era tão tenra que a sua memória depressa se deixou enganar e, de um dia para o outro, a pequena já chamava à mais velha de nós mãe.
A pequena cresceu e, com os seus onze anos, era bela como um cisne. Contra todo o meu bom senso, afeiçoei-me sinceramente a ela. Isto funcionava assim, especialmente entre as mulheres; faziamos o nosso melhor para não nos afeiçoarmos umas às outras, pois precisávamos de nos valer a nós mesmas, mas acabávamos por nos proteger a todas mutuamente. Isto fazia com que muitas vezes todas sofressem o castigo por causa de uma. Éramos uma colmeia disfuncional que temia as sombras.
A verdade era um sítio triste para se viver, por isso todas nós mentíamos a nós próprias e chegávamos a acreditar que adorávamos o Pai. Mas esta pequena loura era talvez quem mais se iludia. Era uma regra de autopreservação que acreditássemos ter um amor profundo pelo Pai, mas esta menina, creio eu, cosera a ideia com linhas de aço no seu frágil cérebrozinho. Não importava quantas vezes as costas lhe fossem rasgadas com o cinto, quantas vezes o nariz lhe sangrava ou o lábio ficava o dobro, quantas vezes fosse afogada em água gelada, nunca lhe vi um único esgar de ódio. Nem mesmo quando ele a acorrentou ao relento sem roupa. Nunca vi rapariga mais devota às punições. E eu adorava-a em silêncio, como se adoram os mártires.
Era hábito dormirmos três em cada quarto, rodando o trio em cada duas noites. Às vezes tínhamos que tomar o leito do Pai. Nessa noite, partilhei o quarto com a mais velha de nós, que em busca de uma aproximação da realidade chamávamos mãe. Era a preferida do Pai. Também lá estava a menina loura. Após uma longa convivência com o Pai, apurei o talento de limar a perpeção das coisas. Nunca saberei responder se realmente vi a cabeleira loura sobre a mãe, pressionando-lhe o travesseiro contra a cara. Pode ter sido um pesadelo. A verdade é que a mãe nunca mais acordou, mas também é verdade que a pequena chorou tanto como nós.
À medida que a menina crescia, as pessoas à sua volta saíam magoadas, mas mais nenhuma chegou a morrer. Contudo, eu notava a apreensão do Pai quando começou a notar na pequena um padrão. Ela fazia de tudo para que mais nenhuma fosse para a cama dele. Foi uma questão de tempo até o Pai a achar possessiva demais e isso não o deixava satisfeito; ele gostava de ser agradado, mas também gostava de variedade e ela parecia querer tirar isso dele.
Chegou então o dia que nos mudaria a vida. Além do Pai, só havia naquela casa um outro homem: o seu filho de sangue. Não lhe era permitido qualquer intimidade connosco, mas quando ele atingiu a idade adulta, o Pai decidiu passar-lhe a menina loura. Pela primeira vez, ela chorou e berrou perante uma ordem directa. A meio do pranto, rasgou as roupas, ganhando uma força fantástica naquelas pequenas mãos.
O Pai encarregou-nos de acalmá-la, deixando-nos em mãos uma rapariga histérica que preferia a morte a perder o direito de partilhar a cama do homem que tão distorcidamente amava. No nosso íntimo, admirávamos aquele amor; seria mais fácil para nós deitarmo-nos com o Pai se estivéssemos tão iludidas. Por outro lado, os olhos insanos que rebolavam presos nas pálpebras da rapariga assustava-nos.
Por graça de algum deus, a pequena acalmou-se e a passividade que tinha perante os castigos apoderou-se dela de novo. Deixámo-la no leito do filho do Pai, como se deixam as noivas virgens nas noites de núpcias. Na manhã seguinte, os berros rasgavam as paredes e nós não cabíamos nos corpos com tanto medo. O leito, deixado branco na noite anterior, estava escarlate e fétido. O filho estava degolado com os testículos enfiados na goela e a pequena de pulsos cortados, com o corpo marcado à faca, formando a seguinte frase: Amo-te, Pai.
Por: Eva Duarte
Eva Duarte é uma jovem escritora portuguesa. Em 2010 publicou o romance infanto-juvenil Angelyraa – Humanidade
de Cristal e o conto A Lua Também Chora. Se pretende obter uma das suas obras, entre em contacto connosco.
Artigo publicado na edição #15 da Revista 21





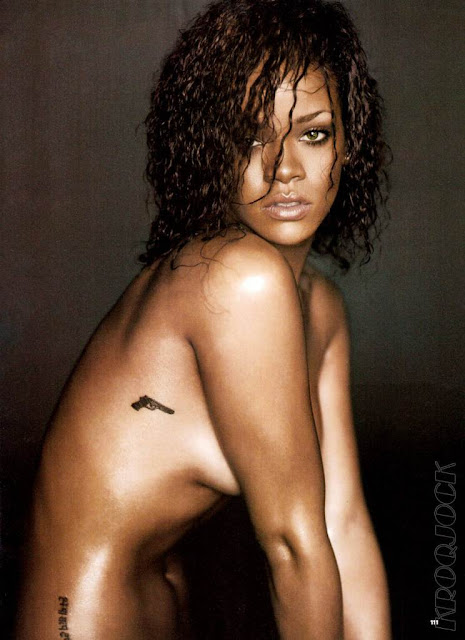

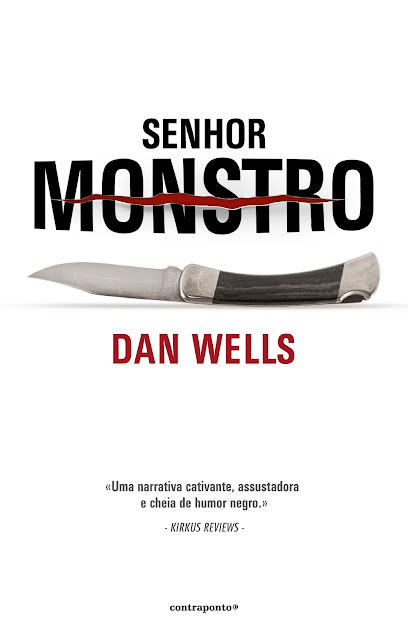




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

+Secret+Story.jpg)

.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)



.jpg)

























